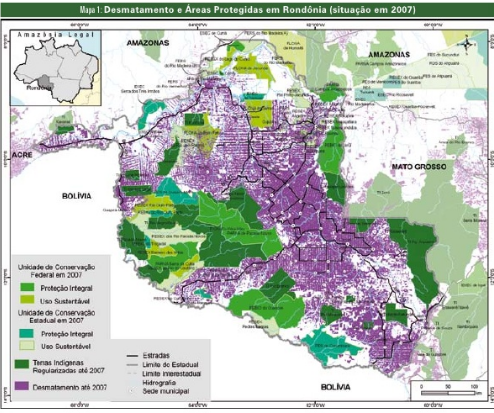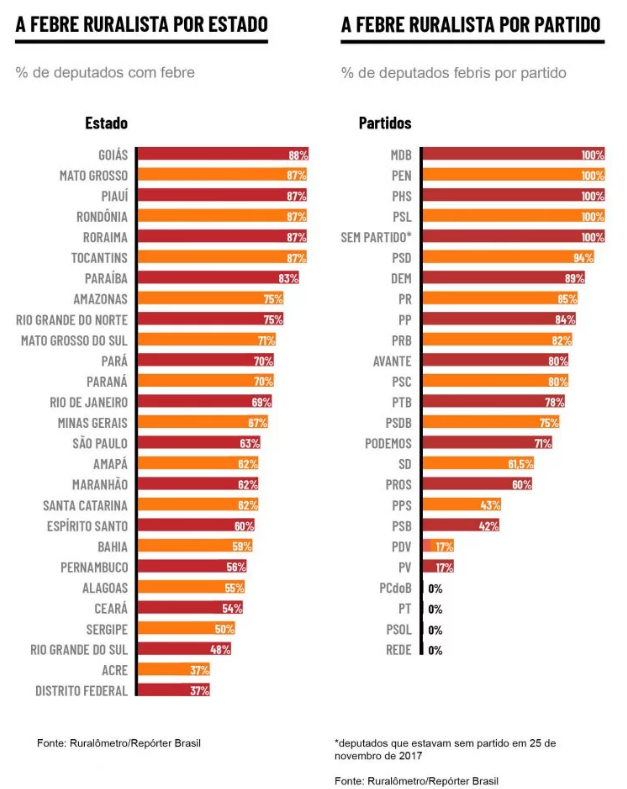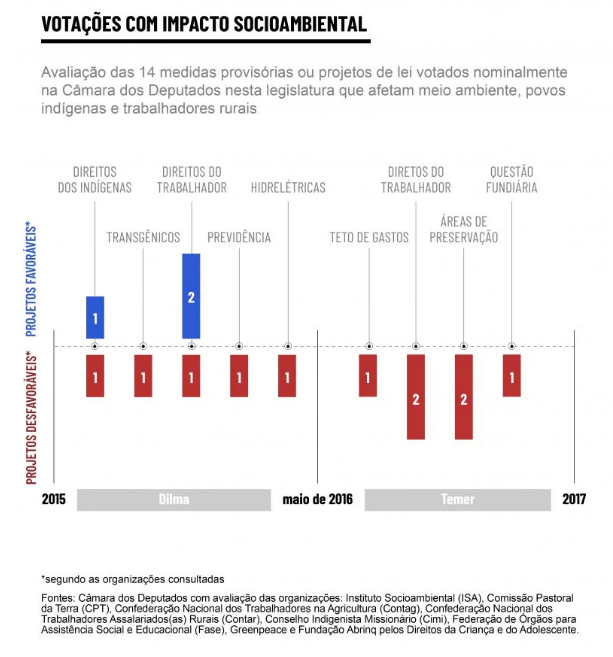Ação teve início em 1979. Para a Assessoria Jurídica do Cimi, o indigenato reconhece a ocupação tradicional, consolida direitos originários e anula títulos expedidos de forma ilegal
 |
| Crianças Xavante _ Foto Reproduzida/CIMI |
Por ADELAR CUPSINSKI, RAFAEL MODESTO E VANESSA RODRIGUES DE ARAÚJO – ASSESSORIA JURÍDICA/CIMI
O Supremo Tribunal Federal (STF) pautou para o próximo dia 8 de fevereiro o julgamento da Ação Civil Originária (ACO) 304. Os autores da ação, a Agropecuária Serra Negra e o Estado de Mato Grosso, alegam que a origem da propriedade Fazenda Divina Graça, a qual integra a Reserva Indígena Parabubure, situada no Vale do Rio Couto Magalhães, teve início com o título de domínio expedido pelo Estado no ano de 1960. Por essa razão, reivindicam o pagamento de indenização à União Federal e à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) correspondente ao valor da gleba de terras, com área de 353,40 hectares.
A ação teve início em 1979 como Ação Ordinária de Indenização. Contudo, por tratar-se de um conflito federativo entre União e o Estado de Mato Grosso, a ação foi encaminhada ao STF, onde tramita desde 1981.
A Funai, na condição de ré, expôs que os limites da Reserva Indígena Parabubure, definidos pelo Decreto 84.337/79, incidem sobre terras de posse tradicional dos índios Xavante. Diante desse quadro, pediu o reconhecimento da nulidade do ato de alienação de terras pelo Estado de Mato Grosso devido ao vício original presente no documento de aquisição, visto que este foi expedido pelo Estado, que não detinha o poder de dispor.
Este não é o primeiro caso em que o Estado se intitulou dono de área por considerá-la terra devoluta e a alienou para terceiros. No ano de 2017, no dia 16 de agosto, duas Ações Civis Originárias foram julgadas, pelo pleno do STF: as ACO’s 366 e 362. O julgamento de ambas ações teve como objeto de litígio a concessão de títulos incidentes em terras indígenas pelo Estado de Mato Grosso. Na ocasião, o STF, de forma unânime, declarou como nulo e extintos os efeitos jurídicos desses títulos.
O primeiro ponto que exige reflexão transita no questionamento sobre o argumento que vem sendo utilizado pelos autores da ação em defesa da legalidade dos títulos de propriedade expedidos pelos Estados. Ainda cabe indagar, neste contexto, que via jurídica seria capaz de comprovar a tradicionalidade dessas terras e consequentemente promover a anulação de títulos expedidos ilegalmente?
Alienação de terra pelo Estado e a Expedição de Títulos de Propriedade
A defesa que gira ao redor da alienação de terras pelo Estado e da expedição de título de propriedade advém de uma má interpretação da Constituição de 1891, a qual expõe no artigo 64 o seguinte teor:
Art 64. “Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais”
Apoiados neste texto constitucional, os autores da ACOs 366, 362 – já julgadas pelo Pleno do STF – e da ACO 304 – em fase de julgamento – classificaram as terras indígenas como devolutas. Contudo, as terras indígenas ocupadas tradicionalmente por indígenas não podem ser caracterizadas como devolutas, pois são terras de ocupação tradicional, logo, não há o que se falar em indenização por desapropriação indireta.
Este entendimento já pacificado pelo STF destaca como principal argumento a comprovação da ocupação histórica e tradicional indígena; tanto pela via jurídica quanto antropológica.
Em termos doutrinários, a tribuna sempre recorre à teoria do Professor João Mendes Júnior, de que as terras do indigenato, desde o alvará de 1º de abril de 1680 e, depois, a Lei de 1850 e o Decreto de 1854, já eram áreas destinadas aos indígenas.
“(…) as terras do indigenato, sendo terras congenitamente possuídas, não são devolutas, isto é, são originariamente reservadas, na forma do Alvará de 1º de abril de 1680 e por dedução da própria Lei de 1850 e do art. 24, §1º, do Decreto nº 1854 (…)” (Os indígenas do Brasil, seus direitos individuais e políticos, 1012, p. 62)
No âmbito normativo, o STF recorreu ao arcabouço do indigenato anterior e posterior à República. O indigenato é a única fonte jurídica que comprova a ocupação tradicional indígena. Do mesmo modo, que o laudo antropológico constitui a única fonte antropológica capaz de reconhecer e atestar sobre as terras de ocupação tradicional. Os dois juntos consignam a principal via de embate contra a tese do marco temporal que visa a imposição temporal sobre o reconhecimento das terras indígenas, qual seja a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
Indigenato – período anterior à República
A teoria do indigenato comporta normas formuladas no período da legislação colonial, imperial e republicana. Esse aparato jurídico foi revisitado pelo STF no julgamento das ACO’s 366 e 362. Destacamos aqui o posicionamento de quatro ministros que, apoiados na teoria do indigenato, acuradamente fundamentaram seus votos.
O ministro Alexandre de Moraes, subsidiado pelo voto da ministra Ellen Grace, salientou que desde o Alvará de 1º abril de 1680 e, posteriormente, a Lei n° 601/1850 (Lei de Terras) e o Decreto n° 1318/1854, já protegiam os direitos territoriais dos povos indígenas.
Por sua vez a ministra Cármen Lúcia, presidente da Corte Suprema, salientou em seu voto que:
“Desde 1680, o alvará que tratava das sesmarias concedidas pela Coroa (1º.4.1680) reconhecia e ressalvava o senhorio “primário e natural” dos indígenas sobre as terras por eles ocupadas. Posteriormente, a chamada Lei Pombalina, de 1755, na linha do estabelecido pelo Alvará de 1º.4.1680, aprimorou sensivelmente a tutela legal dos direitos indígenas, por ordem da Coroa portuguesa, entre os quais o de “inteiro domínio e pacífica posse das terras … para gozarem delas por si e todos seus herdeiros”.
No mesmo sentido, o ministro Roberto Barroso ponderou:
“A Constituição de 1891, em seu artigo 83, manteve em vigor as leis anteriores à sua promulgação que não fossem explícitas ou implicitamente contrárias ao sistema de Governo firmado e aos princípios consagrados. Uma dessas leis era a Lei nº 601 de 18.09.1850 (Lei de Terras), cujo art. 3º definia as terras devolutas e cujo art. 12 permitia ao Governo Imperial reservar, dessas terras, aquelas que julgasse necessárias para a colonização dos indígenas. Todavia, o cipoal normativo daquela época, que incluía até mesmo um Alvará Régio de 01.04.1680, tornava pouco clara a relação jurídica existente entre os indígenas e as terras que lhes serviam de habitat”.
O ministro Edson Fachin também acolheu essa tese argumentativa ao proferir:
“O direito dos indígenas à posse e uso das terras que ocupam tampouco foi infirmado pela Lei de terras acima citada, e veio também assegurada pelo disposto do artigo 24, § 1º do Decreto nº 1318/1854, que regulamentou referida lei, pois entende que a posse é legitimada ao primeiro ocupante, e já se reconhecia o direito originário dos indígenas às terras em sua posse”.
Indigenato – período da República
No período da República, os direitos indígenas foram consagrados nos textos constitucionais desde a Carta de 1934 até a Constituição de 1988. Os ministros do STF também recorreram a estas cartas para fundamentarem seus votos em reconhecimento à ocupação tradicional da terra.
O ministro Marco Aurélio Mello salienta em seu voto que desde a Carta de 1934 é reconhecida a posse dos indígenas das terras que tradicionalmente ocupam. Consta no artigo 129 da referida Carta o seguinte teor: “será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las”.
A Constituição de 1937 versava no artigo 154 o seguinte entendimento: “será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas”. Já na Carta de 1946, estava previsto que seria “respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem”. Por sua vez, os dispositivos da Carta de 1967 estabeleciam no artigo 4, inciso IV, a inclusão: “entre os bens da União as terras ocupadas pelos silvícolas”.
O ministro Alexandre de Moraes de modo a reforçar o voto do ministro Marco Aurélio salienta que:
“A partir da Constituição de 1934, as constituições passaram a consagrar o direito dos grupos indígenas sobre os imóveis por eles ocupados e o próprio Supremo Tribunal Federal foi definindo que essas áreas de ocupação indígena são de propriedade da União, o que culminou na edição da Súmula 480: “Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos arts. 4º, IV e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas”.
Por sua vez, o ministro Fachin expõe:
“A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a consagrar o direito dos índios à posse de suas terras, disposição repetida em todos os textos constitucionais posteriores, sendo entendimento pacífico na doutrina que esse reconhecimento constitucional operou a nulidade de pleno direito de qualquer ato de transmissão da posse ou da propriedade dessas áreas a terceiros, como assinalou Pontes de Miranda, em comentário efetuado à Constituição de 1946, cujo conteúdo era idêntico em relação à tutela dos Indígena”.
Na mesma linha, o ministro Barroso assinalou:
“A Constituição de 1934 foi a primeira a enfrentar o tema expressamente, e desde então colocou um ponto final na discussão: protegeu-se a posse das terras onde os povos indígenas estivessem “permanentemente localizados”, proibindo-se sua alienação. Essa previsão foi repetida nas Constituições de 1937 e 1946. A Constituição de 1967 alterou ligeiramente essa redação, garantindo aos povos indígenas a “posse permanente das terras que habitam” e o direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Além disso, a CF/67 incluiu as “terras ocupadas pelos silvícolas” dentre os bens da União. A Constituição de 1969 avançou ainda mais na proteção às terras indígenas, declarando “a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tivessem por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras ocupadas pelos silvícolas”, além de afastar o direito a qualquer ação ou indenização daí decorrente”.
Ainda cabe resgatar o voto do ministro Victor Nunes Leal, proferido no RE n° 44.585, que embasou a Súmula 480 do STF. O referido voto aparece nos votos dos ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.
“(…) A Constituição Federal diz o seguinte: ‘Art. 216: Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde de achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem.’
Aqui não se trata do direito de propriedade comum; o que se reservou foi o território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena, sob a guarda e administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois estes não tem a disponibilidade das terras.
O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para sobrevivência dessa tribo, como para estudos dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual. Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um povo.
Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado território, porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem terem construções ou obras permanentes para testemunhar posse de acordo com o nosso conceito, essa área, na qual e da qual viviam, era necessária à sua subsistência. Essa área, existente na data da Constituição Federal, é que se mandou respeitar. Se ela foi reduzida por lei posterior; se o Estado a diminuiu de dez mil hectares, amanhã a reduziria em outros dez, depois, mais dez, e poderia acabar confinando os índios a um pequeno trato, até ao terreiro da aldeia, porque ali é que a ‘posse’ estaria materializada nas malocas.
Não foi isso que a Constituição quis. O que ela determinou foi que, num verdadeiro parque indígena, com todas as características culturais primitivas, pudessem permanecer os índios, vivendo naquele território, porque a tanto equivale dizer que continuariam na posse do mesmo.
Entendo, portanto, que, embora a demarcação desse território resultasse, originariamente, de uma lei do Estado, a Constituição Federal dispôs sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico”.
(RE 44.585, Tribunal Pleno, DJ em 12/10/1961)
Conclusão
A teoria do indigenato comporta marcos normativos fundamentais para o reconhecimento da ocupação tradicional, consolidação dos direitos originários e para anulação de títulos expedidos de forma ilegal pelos Estados ou mesmo pela União Federal. Além disso, juntamente com os laudos antropológicos, atua como principal instrumento de repúdio ao marco temporal.
Restou, a partir do resgate da teoria do indigenato, que o marco temporal não trata de uma discussão sobre disputas de natureza possessória, mas sobre o reconhecimento e legitimação dos direitos coletivos e originários, protegido por leis constitucionais e infraconstitucionais.
O que os povos indígenas e os movimentos sociais indígenas e indigenistas esperam do julgamento da ACO 304, no dia 8 de fevereiro de 2018, é que o STF reconheça, do mesmo modo que reconheceu no julgamento das ACO’s 366 e 362, a teoria do indigenato como princípio fundamental para o reconhecimento da ocupação tradicional das terras indígenas.
Fonte: Assessoria Jurídica - Cimi